Apresentação do livro de Amy Chazkel
Apresentação do livro de Amy Chazkel: Leis da sorte. CPDOC – FGV – 29 de abril de 2015.
O livro que hoje tenho a honra de comentar foi publicado primeiro em inglês, em 2011, pela Duke University Press, em 2011. Agora a editora da Unicamp nos faz um grande favor: publicar uma boa tradução ao português que nos permite, aos professores de história das universidades brasileiras, levar este texto para sala de aula da graduação. Leis da sorte oferece uma genealogia e uma arqueologia fundamental do jogo do bicho. O livro é exatamente isso, mas também é um pouco mais. Seria injusto não reconhecer que suas conclusões extrapolam, e muito, o campo de estudos sobre os jogos de azar, os jogos clandestinos e os mercados de entretenimento. Gostaria de argumentar aqui que o livro traz à tona uma série de questões centrais para compreender a conturbada história da vida pública no Rio de Janeiro. Questões, aliás, de uma notável atualidade: a relação entre os projetos urbanísticos e a especulação imobiliária; a tensão entre os grandes negócios e a economia informal da cidade; a intervenção da polícia nas formas de existência e de sobrevivência das classes populares, e ilegalidade rotineira da ação policial.
Assim, as páginas iniciais do livro sobre as “origens do jogo do bicho”, seguem a história de como esse jogo saiu dos muros do zoológico, escapando das mãos do seu progenitor, o Barão de Drummond, e invadindo a cidade do Rio de Janeiro. Este começo nos permite pensar a complexa interação entre o empreendedorismo privado – atrelado às transformações urbanas da Belle Époque carioca – e as políticas do governo municipal. A autora aborda o complexo dilema entre a proibição e a regulamentação de atividades frequentes e visíveis na vida pública urbana. Atividades que iam, aliás, muito além do jogo do bicho. O mesmo dilema estava presente, por exemplo, no grande debate sobre a prostituição na Primeira República, que tem muitos pontos em comum com a forma em que foi problematizada a “questão” do jogo do bicho.
O livro continua com uma análise das “regras do jogo”, não no jogo do bicho em si, mas dos códigos explícitos e implícitos que regulavam sua existência nos espaços da cidade. Nesta parte entra a relação entre a codificação penal, o funcionamento concreto da justiça criminal e a ação – também concreta – da polícia. A partir de 1895, nos explica Amy, a polícia prendia pessoas envolvidas com o jogo do bicho. Muitos eram detidos, alguns tinham dinheiro para pagar fianças, outros permaneciam algum tempo na Casa de Detenção, mas quase nenhum era efetivamente considerado culpável no julgamento. Esta evidência empírica é certamente resultado de um trabalho muito sério, cotejando os volumes encadernados dos Registros de Sentenças Criminais, que estão no Arquivo Nacional, e os Livros manuscritos de entradas na Casa de Detenção, do Arquivo Público do Estado. No entanto, talvez o mais interessante desse capítulo não seja essa evidência empírica, mas a forma em que a autora a interpreta. Concluir que a lei ou a justiça “fracassavam” ou “falhavam” seria a análise mais óbvia, mais simples. Porém, Amy prefere seguir o caminho de interpretar como a lei era praticada e entender, assim, a ilegalidade ambivalente do jogo do bicho. E a lei não era praticada só pelos juízes: seus usos estratégicos se estendiam desde os policiais até os comerciantes, bicheiros e banqueiros. Os policiais usavam a criminalização do jogo para pedir dinheiro aos comerciantes bicheiros em troca de proteção, e esses comerciantes podiam também usa-la para punir a um intermediário que não cumprisse com suas obrigações. Então o “fracasso” perde aqui sentido de um caráter inerte da lei, uma lei de efeitos, sem força, que não mobiliza nada, porque estes diferentes usos estratégicos, dão conta de práticas sociais que a lei permite apesar, ou muito além, de seu suposto “fracasso”.
Leis da sorte tem ainda muito a dizer sobre questões fundamentais da vida pública urbana do Rio de Janeiro e avança na direção de uma história do pequeno comércio popular, do mercado informal, que foi objeto também de um importante livro de Fabiane Popinigis, Protelários de casaca, também publicado pela editora da Unicamp. Para Amy, a notável ubiquidade do jogo do bicho segue a própria ubiquidade do mundo do comércio varejista. Cito uma passagem que acho muito bonita: “O intercâmbio furtivo de pequenas quantias de dinheiro por uma chance de ganhar normalmente ocorria no decorrer do comércio cotidiano: nas ruas, dentro das lojas, em frente aos portões das fábricas, ou seja, no espaço público. Bicheiros eram vendedores ambulantes. Eles trilhavam as plataformas dos bondes e vendiam produtos secos nas lojas de bairro. Varriam o chão dos açougues. Tinham pequenas empresas de venda de cartões-postais e vendiam bilhetes da loteria legal nos quiosques das esquinas” (p. 130).
A conexão entre o jogo do bicho e o comércio de rua, o comércio varejista urbano, era total, de uma intimidade absoluta. E as inquietações morais com o jogo do bicho – explica Amy – não surgiram porque ele fosse um tipo de jogo, mas porque ele era um tipo de comércio. A forma em que ocorreu primeira campanha geral contra o jogo do bicho, em 1913, a maneira em que a polícia atuou nela, refletia a própria geografia moral do comércio no Rio de Janeiro. A grande presença, por exemplo, de imigrantes portugueses entre os detidos revela que a perseguição seletiva seguia tesões sociais existentes, como a hostilização do comerciante português. Uma parte do livro me parece absolutamente reveladora do trabalho fino que Amy faz com as fontes, da sua capacidade de ler a documentação a contrapelo, de se deslocar de um olhar de cima pra baixo para outro de baixo para cima, preocupando-se por reconstruir sempre o ponto de vista do ator. Me refiro às páginas onde ela se pergunta por que nos Livros de entradas na Casa de Detenção havia tantos registros de detentos “sem profissão”. A autora se pergunta quem seriam esses sem-profissão, indaga profundamente essa lacuna, esse silêncio do arquivo, e, através do cruzamento de fontes, chega à conclusão de que eles eram também comerciantes, caixeiros e balconistas, empregos que para muitos policiais não era “respeitável”, era quase uma forma de vadiagem, assim como os vendedores ambulantes, aqueles camelôs que tanto fascinavam a João do Rio no livro A alma encantadora das ruas, e que eram fundamentais para o comércio cotidiano do jogo do bicho, mas tampouco tinham um lugar de destaque nos registros prisionais.
Enfim… especulação imobiliária, grandes negócios e pequeno comércio varejista, vendedores ambulantes, policiais perseguindo práticas das classes populares, policiais construindo redes de ilegalidade: temas, como falei, de enorme relevância histórica e de grande atualidade. Eu fiz um cálculo: poderia dedicar a cada um destes temas três horas. São aproximadamente cinco temas. Ou seja que daria umas 15 horas de comentários. Mas fiquei sabendo que a FGV fecha meia-noite, então tenho uma boa notícia para vocês: vou focar o final desta fala em um único tema e a falar apenas mais 10 minutos. Esse tema é o dinheiro. Gostaria de argumentar aqui que o livro Leis da sorte traz uma análise muito original sobre a “vida urbana” do dinheiro. Amy não cita Simmel no livro, e nem sei mesmo se a obra dele (em espacial, Filosofia do dinheiro) foi fundamental na formação da autora, mas quero defender a ideia de que Leis da sorte é um livro localizado no rastro simmeliano, no sentido de oferecer uma abordagem sociológica do dinheiro, autônoma e crítica das perspectivas predominantes na ciência económica.
As leituras economicistas do dinheiro se baseiam numa distinção forte entre – de um lado – a esfera dos intercâmbios utilitários, instrumentais e profanos (digamos, o “mercado” como modelo das transações monetárias) e – do outro – os significados sociais, culturais e sagrados. Seriam, então, mundos irreconciliáveis: onde há vida social, valores, não há dinheiro, e onde há dinheiro não há valores, ou pelo menos não há outro valor do que o valor do dinheiro. Uma coisa seriam os fatos econômicos e outra coisa os fatos sociais. Simmel tentou quebrar essa distinção e sugeriu que o dinheiro podia ser um objeto da ciência social. Porém, ele preservava a ideia de que a presença do dinheiro na vida social tinha efeitos destrutivos: os vínculos sociais se tornam mais frios, impessoais, calculadores, instrumentais. Permitam-me uma breve cita de Simmel: “a noção inibitória – dizia – de que certas somas de dinheiro são malditas ou estão manchadas de sangue, são sentimentalismos que perdem qualquer significado diante da crescente indiferença do dinheiro”. É dizer que para Simmel não existia dinheiro bom e dinheiro ruim, dinheiro limpo e dinheiro sujo. Como meio abstrato de intercâmbio, o dinheiro matava significados sociais, transformava tudo em uma realidade abstrata, quantificável, fria, cinzenta.
Pois bem, eu acho que a história do jogo do bicho no Rio de Janeiro refuta estas ideias do Simmel. Quando falei que Leis da sorte está no rastro simmeliano, não me referia a que chegasse às mesmas conclusões, mas sim a que tem um mesmo ponto de partida: a centralidade do dinheiro nas interações da vida metropolitana. É difícil para nossos contemporâneos não historiadores, e talvez também para muitos historiadores, imaginar que no período imperial o dinheiro não era o único meio de obter bens materiais, nem sequer o meio predominante. Alimentos, matérias primas, terras e escrevo eram meios de troca e o Império deixou a linhagem de uma economia sub-monetizada. A invenção do jogo do bicho e sua notável proliferação na capital da República aconteceu em um momento de brutal transformação do papel do dinheiro na vida econômica e social, cujo episódio mais conhecido foi o Encilhamento.
A especulação financeira e as consequências das promessas de lucro fácil que rodearam esse episódio são bem conhecidas, como são bem conhecidas também as denúncias sobre os inúmeros “arrivistas” que buscavam enriquecimento rápido com a frenética e caótica circulação do dinheiro nas primeiras décadas da República. Mas Amy nos explica que a trama cotidiana do jogo do bicho não tinha muito a ver com essa loucura do boom especulativo, que seguia ritmos mais moderados, mais conservadores. Cito mais uma vez: “A maior parte dos jogadores apostava quantias muito pequenas de dinheiro nas variantes com maiores chances de ganhar. Os compradores de bilhetes não estavam jogando com as flutuações nos preços ou valores da moeda porque o jogo funcionava diariamente, e os jogadores tinham apenas três dias para receber o prêmio com seu bilhete vencedor” (p. 189).
O bilhete do jogo do bicho era uma forma de circulação monetária, mas o “uso lúdico e criativo do dinheiro”, diz a autora, não era uma exclusividade desta prática ilegal: era um “traço cotidiano da economia popular” no começo da Primeira República. Amy não faz referência ao Simmel, mas sim menciona um livro muito importante para pensar estas questões: O significado social do dinheiro, de Viviana Zelizer. Nesse livro, Zelizer estuda como, na economia cotidiana dos Estados Unidos, quase no mesmo período, o dinheiro não avançava matando significados sociais e culturais, mas criando significados novos. Na terra do dólar, digamos, um dólar não era um dólar. As pessoas “marcavam” o dinheiro com complexos sistemas de distinções e classificações. Nos homens, por exemplo, o dinheiro do salário podia ser usado para a contratação de um serviço sexual, mas não o dinheiro de uma herança. Diferentemente das intuições do Simmel, havia sim dinheiro bom e dinheiro ruim, dinheiro limpo e dinheiro sujo, dinheiro confiável e dinheiro suspeito. Essa marcação informal do dinheiro é, para Zelizer, “um fenômeno tão poderoso como a produção oficial de moeda de curso legal” (p. 37).
As formas ilegais do dinheiro, como os bilhetes de loterias clandestinas, as notas e moedas falsas, são apenas uma parte de este processo, mas são certamente uma parte importante. A circulação destas formas ilegais era um grande problema para a polícia: o dinheiro nunca deixava rastro. Quando a polícia invadia uma casa com mandato de apreensão, tanto em casos de propriedades que eram fábricas de dinheiro falso como em casas onde se administrava o jogo do bicho, raramente encontrava provas. A natureza do dinheiro consiste em circular. Nossas carteiras e nossas contas bancárias testemunham isso: quando vamos buscar o dinheiro, já era, sumiu. Da mesma maneira, quando a polícia ficava sabendo de uma fábrica de dinheiro falso, o dinheiro falso já estava na rua e os falsários, provavelmente noutro país. Essa mesma dificuldade da polícia e da justiça se transforma em obstáculo para o trabalho dos historiadores. Como não havia provas, tampouco abundam as fontes documentais. Enfim, sobre o inquietante parecido do ofício policial com o métier do historiador, não vou falar, por falta de tempo e porque já Carlo Ginzburg falou bastante… e também acabou meu tempo.
Mas não quero encerrar este comentário sem destacar que Amy consegue superar com folga o problema da não abundancia de evidências que em geral caracteriza o estudo da circulação de dinheiro ilegal. Seu livro não é apenas um grande aporte para os que trabalhamos na área de história do crime, da polícia e da justiça criminal. Não só mostra uma enorme originalidade no tratamento da documentação policial e dos processos-crime. Através do estudo do jogo do bicho, Leis da sorte é um livro tão importante para a historiografia brasileira como o livro de Zelizer foi para a história social e cultural do dinheiro nos Estados Unidos. Sugere outra forma de pensar a monetarização da vida social e econômica na Primeira República, onde o dinheiro já não é um destrutor de vínculos e significados sociais. Mostra um paradoxo: a monetarização da vida carioca, longe de padronizar o comércio e a economia, inventou novas formas de improvisação. Inventou, por exemplo, o jogo do bicho. O dinheiro e, em particular, a circulação de números em forma de papel, em vez de fazer a vida do povo mais cinzenta, “deu às pessoas algo com que brincar”.
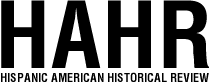
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.